Bertrand
“A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado.” (Sêneca)
Da janela do escritório eu observava o céu. Por vezes, o sol predominava radiante e absoluto sobre as pessoas que caminhavam nas ruas, feito formiguinhas com folhas no dorso. E ainda que nenhuma nuvem ameaçasse tão deleitoso clima, não havia a menor dúvida para mim quanto a vulnerabilidade de nossas plagas às intempéries, às mudanças bruscas de temperatura, aos temporais sem anúncio. Isso lhes parece pouco razoável? Nem tudo nesta vida é razoável.
As recordações daqueles jubilosos dias se desvaneceram, quando fechei os olhos por segundos intermináveis, transportando-me outra vez para o velho sobrado. São duas horas da manhã e é ocioso dizer que, embora eu me sinta demasiadamente prostrado, não consigo dormir. Desta feita, era a lua minguante que pairava incólume no mais alto dos céus, escoltada por uma multidão de estrelas, ao contrário das ruas, onde não havia uma só pessoa caminhando a esmo. Suspirei, pesaroso… Ora, se somos cerca de oito bilhões de seres humanos em todo o mundo, se há no planeta 18 mil espécies de formigas, que superam o peso da humanidade inteira, onde estão todos eles?
Nem pessoas ou formigas, que fossem. A insônia é um mal extremamente solitário. É estar cativo numa bolha atemporal, um plano paralelo além do tempo e do espaço, indene da matéria, da luz e do som, uma dimensão rarefeita e sombria. Deve ser o mesmo que estar morto, desprezado no limbo à espera do Juízo, suponho.
Não sei por quanto tempo permaneci ali (as horas passam de maneira diversa numa noite em vigília) julgando-me o único sobrevivente da madrugada. “Onde estão eles, meu Deus?”, eu me perguntava, distraindo-me por alguns segundos com a minha própria face no reflexo do vidro. Que tolice! É claro e evidente que estavam ali, em algum lugar, do mesmo modo que a chuva a espreitar sorrateiramente por trás dos montes, com uma singular placidez, e assim como a mim, por trás daquela vidraça.
“Que lástima!”, lamentei mentalmente e, ato contínuo, sorvi o último gole de uma insípida dose de vodca, limpando os lábios com as costas da mão tremente. Depositei o copo de qualquer maneira no aparador com as garrafas, ajustei o velho roupão preto e desvencilhei-me da claridade da recente manhã que penetrava por uma diminuta nesga das cortinas. Arrastando os pés descalços no desgastado piso de cerâmica, escorreguei o corpo morosamente sob o fino e obstinado lençol da aurora, na simples tarefa de alcançar a mesa, que ora se tornava demasiadamente cansativa.
Sobre o tampo, junto a uma xícara de café frio, um prato com farelos de pão e um cinzeiro usado, jazia o processo de um importante cliente. Sentei-me com displicência, as pernas esticadas e a lombar fora do apoio; bocejei e estiquei os braços para cima, entrelaçando os dedos e estalando-os acima da cabeça. Aqueles bocejos e suspiros, muxoxos e esgares, denunciavam uma prostração crônica a que me submetera, nos estranhos domínios daquele pecado capital, onde dissipava meu tempo em devaneios tristes e inúteis. “Discute-se neste recurso a teoria do adimplemento substancial do contrato, aceito pela doutrina e a jurisprudência como forma de se flexibilizar o rigor contratual, restando comprovado nos autos a quitação de mais da metade do contrato”.
Fechei outra vez a pasta, com a mão espalmada sobre a capa; em seguida, apoiei os cotovelos na mesa e segurei a cabeça com as mãos. Na contemporaneidade, o processo jurídico se tornou um verdadeiro circo e, como o ofício não me atraía mais, certas matérias aborreciam-me sobremaneira. Imaginem se as formigas e demais seres sociais precisassem de um ente maior para decidir querelas mesquinhas? Oras. Naquele momento, aquilo era muito para minha mente exausta, mas o justo e necessário para um advogado de meia idade e com um excesso de contas a pagar. Por isso convém prosseguir, mesmo protelando vergonhosamente.
Cruzei os braços e corri o olhar pela pequena sala cinzenta, vetusta e melancólica, decorada com móveis de madeira de quase trinta anos, além da maltratada tapeçaria que adornava um terço do cômodo. Em todos aqueles notáveis pormenores estavam impressas reminiscências de uma vida inteira, lembranças vagas e diáfanas, como a clandestina luz do amanhecer, de tempos áureos e felizes.
Ainda assim, não havia saudade, luxo para poucos e privilegiados mortais. Além da sórdida poeira que se assentava inclemente sobre aquelas memórias e sobre a própria existência, o que me restava?
Volvi os olhos para a porta, despertado abruptamente de minhas divagações. Em meu voluntário desterro, há tempos não recebia visitas e consequentemente os compromissos com clientes eram raros, raríssimos. A campainha, de tom obsoleto e anacrônico, tintinou outra vez e fechei os olhos, na infantil esperança de transportar-me dali para outro lugar, outro momento. “Tempos áureos e felizes”. Levantei-me, desconfiado e pensativo, caminhando, pé ante pé, na direção da porta e daquilo que por trás dela, buscava-me com tamanha urgência e avidez.
– Quem é? – perguntei, próximo à folha de madeira, observando a sombra que se esparzia através da fresta junto ao chão. Encarando-as, assim, amiúde, pareciam que esticavam tentáculos em minha direção, como se desejassem aderir a meus pés nus. Então, recuei.
– Bertrand? – redarguiu uma voz masculina, de timbre grave e significativamente rouca. Por algum motivo, foi estranho ouvir meu próprio nome, daquela maneira, naquela ocasião, naquelas condições. Cocei a cabeça, inquieto e repeti a pergunta.
– Quem é? – insisti, tentando imprimir maior severidade na voz. Receio, porém, que repetida a pergunta, haveria a confirmação tácita de minha identidade. Do que me escondia, contudo? – Vá embora! – determinei e um enigmático silêncio seguiu-se após isso. A sombra ainda estava lá, eu podia vê-la pela fresta, imóvel, mas seus tentáculos não me alcançavam mais.
– Podemos conversar um pouco? – perguntou, após breve hesitação. “Polícia?”, pensei, mas o que a polícia poderia querer comigo? Arfei e seguiu-se novo silêncio, dessa vez mais pesado, quase tangível. Enfim, destranquei a porta e girei-a lentamente nos gonzos.
– Posso entrar? – propôs seriamente. Era um senhor de uns sessenta e poucos anos, o olhar melancólico, a barba grisalha feito os cabelos ondulados que caíam parcialmente sobre a testa; as enrugadas mãos pairavam entrelaçadas em cima do ventre, enquanto esperava a resposta e eu o contemplava, boquiaberto e intrigado. Havia algo nele, que não sei dizer ao certo, que o tornava paradoxalmente estranho e familiar – e que me inquietava profundamente.
É provável que não me compreendam, mas temo não ser possível transmitir a natureza de meus sentimentos naquele momento. Os ruídos da cidade que acordava vinham morrer nos muros da minha pequena fortaleza, mas um calor em meu peito emudecia-me. Não havia, em absoluto, motivo ou razão para isso, entretanto, franqueei-lhe a passagem, sob o jugo de um estranho silêncio, e o sujeito entrou, desentrelaçado as mãos. Meneou a cabeça em sutil cumprimento, ao cruzar comigo, seguindo vagarosamente pela sala, parecendo refletir alheio e ensimesmado. Senti cada músculo do meu corpo enrijecer, tomado por uma angústia repentina. Havia algo errado.
– Você não é policial… – afirmei, com o coração descompassado, abandonando a porta aberta e o acompanhado, em minha epifania tão tardia. – Oficial de Justiça? – completei, enquanto ele estacava logo a frente, absorto em algo que eu não podia compreender. Segui sorrateiramente até a cômoda, no canto da sala, e puxei com cautela a primeira gaveta, assegurando-me que ele não percebesse que eu insinuava a mão pela pequena abertura e recolhia o conteúdo antes protegido por uma flanela laranja.
– Não... não sou. – respondeu-me de pronto e desdenhoso. – Advogado.
– Deve ter havido algum engano… não sou quem procura. Peço que o senhor vá embora, por favor. – solicitei, de modo respeitoso, mas ele parecia pouco se interessar, parado com as mãos na cintura, olhando calmamente tudo a sua volta.
– Não, não houve engano algum… – disse, quase que para si mesmo, e rompeu marcha outra vez. Passou a polpa do indicador pelo tampo da mesa, esfregando-o posteriormente no polegar, contornando um sofá individual de couro marrom.
– O que você acha que está fazendo? – esbravejei indignado, o sangue pulsando nas têmporas, os olhos úmidos, no momento em que ele alcançava a janela.
– Salvando sua vida. – respondeu-me categoricamente enquanto abria as cortinas num puxão vigoroso, a poeira cintilando sob a luz do exterior, agora indomável e poderosa. – Isso aqui está parecendo um mausoléu... – comentou em reprovação, ainda de costas, abanando a mão em frente ao rosto para afastar a poeira.
– Pois vá salvar minha vida em outro lugar! – determinei, mas ele assumia um embaraçoso estado de indiferença. Ergui, então, o cão do revólver que apontava trêmulo em sua direção. – Saia já daqui! – insisti. Não esperei que me atendesse e, tomado de profunda angústia e desespero, fiz três disparos seguidos. Nenhum, contudo, o atingiu: a arma não detonou um só projétil! Atônito, calquei o gatilho mais duas vezes; os tiros falharam da mesma maneira.
O velho virou-se lentamente, quando ouviu os cliques secos do revólver, sem esboçar medo algum; permanecia parado à minha frente, os braços estendidos ao lado do corpo, encarando-me incomovido. O contorno de seu corpo ganhava destaque contra a luz da janela, a mesma por onde, há poucos minutos, eu olhava furtivamente e em paz, o céu e as pessoas, sem compreender completamente nenhum deles.
– Você guarda isso há tanto tempo que a pólvora está úmida, meu caro. Na verdade, você guarda muitas coisas das quais deveria se desfazer – ainda mais letais do que isso, acredite… – comentou, batendo a poeira do ombro. Em seguida, dirigiu-se ao pequeno sofá, sentou e desabotoou o terno e cruzando as pernas, os antebraços descansados no apoio do estofado. – Um presente um tanto inadequado para um filho, suponho. – comentou incidentalmente.
“Um presente um tanto inadequado”. De certo modo, pode-se assim dizer. Ali naquela mesma sala, meus pais discutiram várias e várias vezes sobre o tema. Os tempos eram outros, a luminosidade daquela casa era outra. Mamãe jamais gostou de armas, achava-as perigosas e com um poder quase paranormal de estimular a violência, como se donas de vontade própria. Meu pai, homem prático e de princípios suficientemente limitados, não acreditava que elas pudessem provocar quem quer que seja, independente da fraqueza de suas mentes. “Não vou me desfazer dela, não insista. Na verdade, quem tem uma dessas, a tem para não usá-la. Mas ai daquele que se encontrar numa situação em que precisar e não puder!”, afirmava categoricamente, após sorver um gole de um refrescante suco de laranja ou do café matinal. “Acho muito perigoso. Já conversamos sobre isso.”, retrucava ela, movendo o olhar disfarçadamente em minha direção, mas não fixamente a ponto de ser notada. “Não sei porque você persiste nesse assunto. Não vou me desfazer. Aliás, faço questão que fique com ele depois de mim…”, testamentava ele e a conversa chegava ao fim, para recomeçar em outra situação, até mais acalorada, numa outra oportunidade. E assim foi, após o enfisema, já tão distante dos apelos e protestos de minha mãe. E cá estava eu, exatamente como meu pai previu. Um presente um tanto inadequado.
– Não entendo como sabe disso. Quem é você, afinal? – perguntei confuso e perturbado, baixando o revólver e a cabeça. – Está me espionando? – acrescentei constrangido, os olhos marejando por uma mescla de emoções incisivamente perturbadoras.
– Um amigo. Talvez o único que tenha lhe restado. – afirmou, como se a frase muito lhe custasse a sair da boca, erguendo-se outra vez do sofá. Parou em frente a uma estante com alguns livros antigos e quadros com fotos de família, há muito negligenciados.
– Eu realmente não entendo... – comentei, resignado, deixando a arma sobre a mesa. A mesma com o ignorado processo entre os restos de uma noite em claro. Aproximei-me do sujeito.
– Faça um esforço. E por favor, não me interrompa mais, tenho pouco tempo. – disse, com a firmeza de um professor. – Olhe para você… – afirmou, num tom grave, balançando a cabeça em reprovação, esticando, em seguida, a mão direita aberta na direção da estante, a palma exibindo uma nem tão discreta cicatriz, na diagonal. – Até quando irá se culpar? – concluiu, pesaroso, apontando para minha esposa e meu filho, presos num instante feliz emoldurado.
– Não sei do que está falando… – tartamudeei, desviando o olhar. O que ele podia dizer sobre isso? Naquela noite choveu em apenas três horas o equivalente a um mês inteiro. E eu não estava com eles…
– Deixe de se ocupar tanto com o que viveu e passe a valorizar o que ainda há de viver. Você não pode mudar o passado, Bertrand, mas o amanhã… o amanhã está em suas mãos. Veja o que se tornou. Onde acha que isso vai parar?
– E o que me tornei, ahn? Sou um advogado bem-sucedido e respeitado. O que você pensa sobre isso ou qualquer outro assunto não me interessa. – afirmei pouco assertivo e ele novamente não se comoveu.
– Ora, faça-me o favor e pare de mentir para si mesmo. Advogado bem-sucedido? Nem mesmo a um escritório você pertence mais. Pelo amor de Deus, Bertrand. Quem você acha que contratará um advogado alcoólatra, metido em andrajos ensebados?
– Ora, seu desgraçado! Já chega! Vá embora agora mesmo! – gritei, apontando o dedo em riste na direção da saída, mas ele insistia.
– Esqueça tudo e siga em frente… – orientava, como num discurso político ensaiado. Eu ouvia tudo com perturbação, arrependido por tê-lo deixado entrar… aquelas palavras traziam à tona lembranças que eu calava com extremo esforço, que surgiam dolorosamente em pesadelos, dos quais eu despertava ofegante e em prantos. “Esqueça tudo e siga em frente” ecoava lá no fundo, quando avancei sobre ele e desferi-lhe um murro. Num movimento enérgico e atropelado, caímos em cima do aparador de bebidas, terminando ao chão, junto das garrafas e copos que estilhaçaram com o impacto.
– Pare com isso, eu não quero te machucar! – afirmou ele, defendendo-se com dificuldade dos golpes. A luz do sol nos alcançava, tão despercebida e superficial quanto o som de buzinas, carros e fragmentos de conversas incidentais na rua em frente. Atingi seu rosto mais duas vezes e, apoiando-me nos joelhos e uma das mãos, ergui-me ofegante e puxei-o pelo colarinho, levantando-o com energia, expulsando-o a socos e pontapés..
– Sabe onde eu estava naquela noite, seu desgraçado? – esbravejei ao atirá-lo porta a fora e ele me interrompeu de pronto.
– Com sua amante. E por isso se culpa dia após dia pelo que aconteceu. – completou o sujeito, e paralisei, estupefato. Não sabia o que dizer ou o que pensar, tomado por uma horda de subversivas emoções.
– Se eu estivesse com eles… – pensei alto, as palavras saindo de minha boca contra minha vontade, num ato falho.
– Estariam todos mortos… – respondeu pouco antes de eu bater a porta em sua cara, ofegante e perturbado, as duas mãos espalmadas na folha de madeira como a impedi-lo de entrar novamente. Já não importava mais… suas palavras estavam gravadas na minha mente, assim como minha esposa e meu filho. Eles jamais foram encontrados, mas eu podia vê-los, o tempo todo. Não num instante feliz como o da estante, mas tomados de desespero, no turbilhão daquelas águas, numa avalanche de lama. E eu não estava com eles, por um mero capricho, um prazer efêmero e fugaz.
Apoiei as costas na porta e deixei meu corpo escorregar até sentar-me no chão, prostrado, afundando o rosto entre as mãos, chorando aos soluços. “Deus, eu não estava com eles…”, eu me culpava, quando percebi uma das mãos ardendo, encharcada de um líquido viscoso e de odor metálico. Afastei-as do rosto e meu corpo tremeu num calafrio, ao notar com assombro um profundo corte na mão direita, o sangue fluindo com vigor. Imatura cicatriz. Enquanto isso, a roda do mundo girava, e as pessoas, lá fora, caminhavam despreocupadamente debaixo de um sol radiante. E eu deixava de esperar pela chuva.
O Portal Multiplix não endossa, aprova ou reprova as opiniões e posições expressadas nas colunas. Os textos publicados são de exclusiva responsabilidade de seus autores independentes.

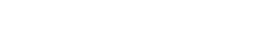


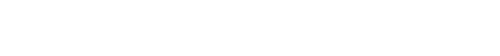


.jpg)